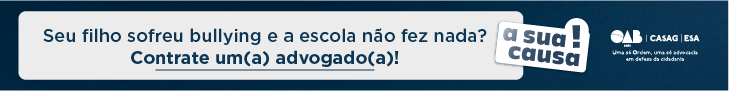Goiânia - “Você está perdendo a oportunidade de fazer uma importante reflexão sobre o racismo que está impregnado na gente”. Foi o que ouvi de meu companheiro há uma semana entre conversas e tragos de cerveja Prestige sob um céu aberto e clima quente. Estávamos no hotel em Porto Príncipe e digeríamos tudo o que tínhamos visto e vivido naquele dia*. Eu relutava em concordar que meu espanto e, sobretudo, meu medo em um mercado rodeado de muita miséria, esgoto e uma população absolutamente negra estivessem relacionados a racismo. Parei de relutar e me propus a alinhar meu pensamento ao dele depois da frase.
Eu, descendente de africanos que por um acaso fenótipo não carrego uma pele mais escura e um cabelo pixaim. Eu, que toco tambor, canto e danço música afro-indígena. Que defendo, sem titubear, cotas para negros e todas ações afirmativas que ajudem a mudar esse cenário construído por anos. Cenário no qual negros continuam fora de espaço de poder, de conhecimento, dos empregos mais conceituados e continuam a ocupar os mesmos espaços que os escravos. Eu, que tenho as pessoas mais bem queridas, inclusive do meu mesmo sangue, negras?
“Os seus negros. Não os desconhecidos”.
Foi assim que ele matou a charada e coloquei minha relutância no bolso. E em seguida, entendi, mais do que nunca, o drama do negro no Brasil. “Bandido até que se prove o contrário”. O lugar dos negros e pardos está bem guardado. A injustiça arrastada durante toda nossa história o delineou bem: nos morros, nas periferias, fora dos shopping centers (quem se lembra do rolezinho?). Na universidade; enquanto faxineiros. Nos prédios de luxo; enquanto eles ainda são erguidos.
Quando foge à regra, a meritocracia explica e dá lição: ei, negro, venha ser vencedor você também. Como se bastasse querer ultrapassar todas as inúmeras barreiras construídas desde que à gente de cor foi imposta a escravidão. Barreiras estas que vêm sendo derrubadas, uma a uma, pouco a pouco, bem lentamente.
Reconheci o meu preconceito e ao invés de, simplesmente ficar com vergonha, fui ligando pontos para entendê-lo. A história explica a marginalidade onde sempre estiveram. Marginalidade que os leva a serem autores dos crimes que nos deixam temerosos. Em dez anos, o número de negros nas universidades triplicou. Um processo completamente novo. Uma inclusão recente. Desde que saíram dos navios negreiros e colocaram seus pés em terras brasileiras, o negro seguiu à margem de todo tipo de direito, assinatura de princesa Isabel afora. Da marginalidade fez sua morada: nos morros, nas ruas, nas proibições, nas negações, nas violências – sofridas e cometidas.
À custa de muita briga e luta, saem desse espaço. Saem sem ser exceção. Saem sem vitórias individuais justificadas por meritocracias, mas por processos e vitórias coletivas e sociais. Saem como estatísticas. Mas saem a passos de formiga. Ajuda a ralentar o processo uma mídia incapaz de se dar conta do racismo que alimenta e retroalimenta.
Ainda com nossa conversa na cabeça, recebo a notícia da modelo loira que foi resgatada da cracolândia. Loemy Marques, de 24 anos, saiu do Mato Grosso para São Paulo para alavancar sua carreira de modelo. Acabou viciada em crack e foi parar na cracolândia.
Um veículo de comunicação descobriu aquele fato curioso e diferente. O resto veio atrás, como urubu, comer a carne ainda fresca. Ela, afinal, estava no lugar errado. Loira, modelo, olhos verdes. Aquilo não seria espaço para ela. “Não viemos explorar a tragédia dela. O que queremos é um final feliz”, disse um dos produtores de TV que a assediaram.
Supondo que, de fato, o produtor e sua emissora tivessem a boa intenção de, apenas, dar um final feliz a jovem. Por que a ela e não aos outros que seguem ali na cracolândia? Em especial, àqueles que não tiveram, sequer, um início ou meio de vida feliz. Quem dirá final.
A empatia ou a compaixão hipócrita de que: poderia ser com qualquer um de nós. Nós, brancos, trabalhadores, que lutamos bastante para ter nossos empregos e nossas famílias. Mas, que devido a algumas infortunas e infelicidades da vida, poderíamos acabar nos entregando ao vício das drogas e arruinando nossas vidas. Nós, brancos, poderíamos ter esse destino dela. Que façamos um final feliz.
O final feliz que não compensa oferecer a quem já nasceu ou cresceu na infelicidade e que, portanto, é normal que esteja naquele espaço. É normal que retirantes nordestinos se dêem mal em São Paulo e acabem ali. É normal que padrastos espanquem ou estuprem adolescentes e crianças e elas acabem viciadas em drogas, ali. Como é normal que o negro ganhe 36% menos que o branco. Que negros fiquem mais tempo desempregados. Que eles sejam 70% das vítimas de assassinato no Brasil.
Isso não nos assusta. Isso sempre foi assim. Seguem na invisibilidade. Todos eles ali, zumbis – como tão bem a mídia gosta de chama-los – nos dão medo. São os negros que não são “nossos”. Não têm identidade. Não têm história. Não tem saída.
A quem procura pautas como essa e, também, a quem se deleita com a emoção daquela anormalidade, não é normal que empresários estejam ali. Que pessoas nascidas em leitos familiares, que tenham estudado em bons colégios e conseguido bons empregos tenham se perdido na cracolândia. Que mendigos lindos e loiros estejam pelo centro de Curitiba (quem se lembra?). Não é normal, também, encontrar ali negros que receberam a mesma educação e cultura de um branco. Quando digo mesma não me refiro ao que é compartilhado publicamente, mas aos privilégios que só dinheiro pode comprar. Por isso, chamaria atenção, também, se fosse um negro filho de um empresário rico, por exemplo, criado a danoninho e educado em colégios privados.
Quem se lembra de 12 anos de escravidão? Uma história cujo drama é enfatizado não somente no absurdo de que um negro já alforriado retorne à escravidão. Mas, principalmente, porque era um negro que tinha um bom emprego, sabia tocar violino, ler, escrever. Em suma: diante de tantos direitos, seria ainda mais injusto que retornasse à escravidão. Não se trata, portanto, de uma questão racial em si, mas de não encontrar anormalidade, nem enxergar necessidade de atenção àqueles que nunca tiveram os mesmos direitos que sempre foram restritos a alguns.
Ainda sob o céu aberto haitiano, meu companheiro, então, me propôs o seguinte exercício: se no mercado onde estivemos fossem todos brancos, igualmente pobres, você teria o mesmo medo? Refaço o exercício dele: se fossem todos brancos, igualmente viciados em craque e zumbis, seria uma negra, ainda que modelo, que chamaria a atenção da imprensa? Ou o absurdo seria, justamente, tantos brancos reunidos na cracolândia, sendo o único corpo-não-estranho a mulher negra?
Nossa história de casa grande e senzala, mesmo quando fisicamente esses espaços não existem mais, segue se repetindo: negros no lugar de negros: na cozinha, na construção civil, na prostituição, nas drogas, no tráfico. Mas é absurdo, completamente desumano e irresponsável autorizarmos que isso continue assim. E enquanto a imprensa alimentar a normalidade de negros usuários de crack e a anormalidade que é um branco estar ali, vai continuar a alimentar o racismo: o escrachado, o velado e o entranhado.
O que a imprensa consegue mostrar, nesse caso, é sua potencialidade em promover um debate: uso do craque, por exemplo, falta de políticas públicas, as tristes histórias que levam aquelas pessoas para ali. Consegue mostrar, igualmente, sua incapacidade de refletir sobre o racismo e de dar conta de sua responsabilidade em falar com e sobre todos os cidadãos.
Loemy vai aparecer linda daqui uns dias no programa. Igualmente viciada. Não é preciso entender muito de recuperação de dependência química para saber que com banho, maquiagem, comida, casa e alguns dias a pessoa não perde a vontade de colocar o cachimbo na boca. Ela, como todos os outros dali, precisam de casa, sim, comida, atenção, recuperação e um quilo de políticas públicas voltadas para os zumbis: que só passam medo e se mostram como “boa mão de obra jovem trabalhadora” desperdiçada. Mais um caso que a imprensa ajuda a alimentar o preconceito de que negro tem seu lugar. O branco também. Mais uma oportunidade que a gente perde de refletir sobre nosso racismo.
*O próximo texto será sobre a experiência no Haiti. Aguardem!